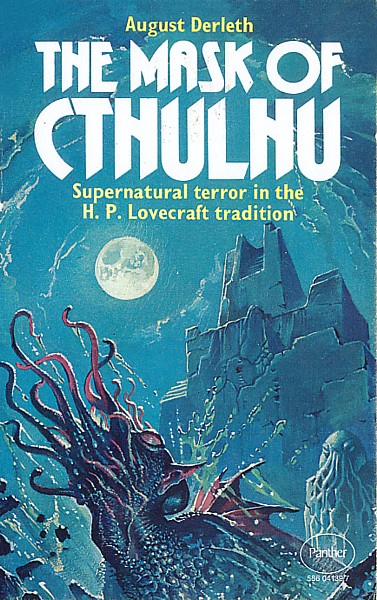.jpg)
Meu avô Sebastião e seu companheiro de estrada, Loir,
posando com caminhão Ford, na R. São Pedro em frente
ao estúdio de fotografia de Gustavo Jansson na década de 50
.
.
.
DEPETRIS
Das Pedras à Pedra que o Rio Cavou
.
Lembro-me bem disso, embora eu possua poucas lembranças da minha infância, daquelas que não foram varridas para os porões mais secretos e profundos da minh’alma, lembro-me tão vivamente como se nunca tivesse me despedido de vez desse passado. Alguma coisa em mim, alheia a minha vontade, me preservou das passagens negras da minha infância junto com o alcoolismo do meu pai e cuidou para que os raros momentos felizes dessa época não se empoeirassem jamais. Pensando melhor, acredito que essas pérolas tenham ressurgido recentemente como bálsamos para aliviar os novos passeios por entre a dor e o sofrimento inevitáveis da jornada de se viver. O tempo, claro, também pode enganar e a imaginação sempre trata de preencher as lacunas que a memória deixa abertas, o real e a ilusão se confundem e se entrelaçam.
.
.
Nas noites tempestuosas do meu mundo perdido de criança, quando a natureza unia o que a rotina havia separado, quando a energia cessava e nos libertava da hipnose da TV que nos isolava em nossos quartos, feitos prisioneiros em celas, nos reuníamos a luz de velas, na sala onde a grande janela com grades parecia naquelas ocasiões, um quadro ameaçador de escuridão infinita, ou na copa, em volta da pesada mesa de madeira que nas sombras bruxuleantes, continha um ar estranho, como se estivéssemos em alguma casa desconhecida e antiga, para conversarmos, nos distrairmos, como os contadores de histórias ancestrais, éramos novamente uma família. Assim, quando o tempo e o espaço ganhavam novos significados, imersos nas trevas, cedo ou tarde, por insistência minha e de minha mãe, as conversas se transformavam em pedidos e então, meu avô, ao mesmo tempo interpretando o constrangimento e o contentamento de velho sábio, depois de hesitar um pouco alegando que aquela não era hora de falar sobre o assunto, nos contava suas histórias de “visagens”. Histórias que em sua maioria já conhecíamos, mas sempre nos surpreendiam cada vez que eram repetidas, graças à soberba habilidade narrativa de meu avô, que provavelmente herdou esse dom de prender a atenção enquanto fala de sua mãe, Delfina, que dizem ter sido uma mulher boa de prosa e personagem de muitas das histórias que meu avô aprendeu. De fato, esse medo do sobrenatural que meu avô, homem corajoso forjado pelo suor do esforço e da vida na boléia, ostenta, se origina de sua infância que foi repleta de casos assombrosos, sua mãe e sua avó e alguns de seus irmãos e irmãs contavam e contam com o mistério de onde estiverem, facilitarem a manifestação do inexplicável.
.
***
.
A tradição oral de contar histórias começou com a avó de meu avô, Emília, imigrante ou descendente do povo germânico, não se sabe ao certo, que acabou por se embrenhar nos remotos recantos do interior do estado do Paraná, no bairro de São Francisco, município do Rocha, perto de Adrianópolis. Certa vez, quando sua filha Delfina, mãe de meu avô, Sebastião, ainda era menina, Emília cansada de ter de aturar um estranho fenômeno que insistia em ocorrer cada vez mais frequentemente nas noites escuras, de três vozes femininas conversando e rindo em língua desconhecida que passavam por cima do seu sítio, gritou enfezada bem na hora em que as vozes sobrevoavam suas terras:
.
“_Já vão indo as cadela!”
.
Mal terminou de falar, um grito terrível rasgou os céus e o som de alguma coisa caindo contra o chão ecoou na noite. Não muito longe do casebre simples, de chão de terra batida e paredes de madeirame tão finos que mal barravam o vento, alguma coisa se debatia raivosamente no matagal. Com medo pela segurança das filhas, afinal acreditava-se que essas megeras raptavam bebês no berço e crianças descuidadas, Emília alcançou uma foice e manteve vigília por toda a noite com sua cria grudada na barra de seu vestido, próximos do fogo, ouvindo o rugir da fera que se contorcia em seu quintal. Enfim, quando o dia amanheceu trazendo consigo a segurança da proteção do sol, Emília ousou sair de casa para investigar o que diabos teria havido. Não viu nem encontrou nada de estranho, apenas um mato remexido perto do seu paiol como se algum animal tivesse dormido e rolado por cima dele. Desde então, nunca mais as tais vozes foram ouvidas, e quanto ao local da queda da bruxa, jamais novamente medrou ali mais nenhuma planta ou erva e os animais se recusavam a se aproximar do lugar, como se sentissem que alguma coisa havia conspurcado eternamente aquele ponto. Mais do que seres mágicos atormentavam a vida difícil de Emília no sertão, em outra ocasião, um suposto cachorro estava perturbando os porcos do rancho, Emília, acreditando que se tratava de algum animal vadio, munida de um pedaço de pau afugentou a baixo de gritos e pauladas o oportunista. No dia seguinte, quando o dono do porco que pagava a Emília que o engordasse foi buscar o suíno capado, ela contou para o senhor o que havia se sucedido, ele ao examinar os grandes retalhos no toucinho, esbravejou abismado:
.
"_Esse não é serviço de cachorro nenhum, mas de onça!”
.
Foi a gota d’água que a fez se mudar para mais próximo da civilização, desse modo, veio Emília para a região de Ribeira, no interior do estado de São Paulo, divisa com o Paraná, aldeiazinha cercada por gigantescos montes cobertos por mata atlântica, quente qual praia e rica em cursos de águas em que o mais caudaloso e perigoso deles é o próprio ribeirão que lhe batiza, o rio Ribeira. Emília, no entanto, jamais se acostumou com os confortos da modernidade, sua origem humilde a levava a praticar atos memoráveis que marcaram a minha tia Marilda, como quando Emília dormiu na casa do meu avô, Sebastião, seu bisneto, em Ribeira e ao invés de se instalar em um quarto, preferiu estender um pano no chão da cozinha e dormir por ali mesmo. Seu quarto, quando a minha mãe Rosangela a visitou tempos depois, continha uma singela cama de palha, que ao se deitar emitia um som incômodo, mas era confortável. Junto com ela também vieram sua irmã Paulina e filho José Fisher enquanto outros irmãos se foram para Santa Catarina para nunca mais se verem. A polaca que trazia na pele a neve européia nunca se casou, limitou-se a um relacionamento informal com Antonio Ursolino Diaz, vulgarmente chamado de “Diogo” devido ao nome do pai. Antonio Diogo era um representante da negritude genuinamente brasileira, conquistador simpático que morava no Ribeirão do Canhã, Cerro Azul, perto das bandas de Ribeira. Tão carismático era o crioulo, que há quem suspeite que o filho de Paulina que era solteira, o jeitoso José Fischer, fosse dele. Antonio Diogo também tinha lá as suas extravagâncias misteriosas, embora nessa sua pequena fazenda, tivesse uma bela casa de peroba, morava em um paiol nos arredores com a família oficial e usava a bonita casa para estocar milho. Nunca se soube, ou melhor dizendo, nunca alguém teve a coragem de lhe indagar o porquê disso, infere-se que a casa não possuísse “bons ares”, por assim dizer. Ele guardava uma considerável quantia fétida pelo tempo, de mil réis em um caixote de querosene, soma que perdeu todo o valor por não ser trocada na época pelo cruzeiro por pura teimosia de Antonio Diogo em acreditar que um dia o seu dinheiro poderia perder o valor. Mas através do trabalho duro o mouro conseguiu refazer o pé-de-meia, comerciante sagaz de porcos, incansável. Emília não teve um final feliz, após sofrer um acidente em que bateu a cabeça em uma queda que lesionou seu braço prendendo-a por um longo período a cama enfraquecendo irremediavelmente sua coluna, um “derrame”, como diagnosticaram, esse acidente a prendeu a cadeira de rodas até a sua morte. A Aline, minha prima, que colheu os dados com os quais agora eu consulto para complementar esse registro literário, que sem suas preciosas anotações seria impossível levantar todas essas informações que transformo em crônicas, escreveu em seu livro de pesquisa que ela mesma conheceu a Emília quando esta estava no fim da vida; conta Aline que os cabelos de Emília haviam adquirido a coloração prateada da sabedoria dos anciões, seus pés, inutilizados por anos lhe doíam muito, as unhas machucavam a carne encravando-se nos dedos abrindo feridas pelo caminho. A dor era tanta que Emília preferia conviver com ela a permitir que alguém tocasse nos seus pés. De Antonio Diogo, não se sabe que fim levou, provavelmente faleceu mais ou menos no mesmo período. Todavia o gênio forte de Emília marcou sua filha, Delfina, de tez bem morena, alta, magra, voz rouca devido ao fumo, intrépida. A menina Delfina convivendo com os acontecimentos estranhos que rodeavam a mãe, e ouvindo as histórias da família Altimiha, da esposa de Antonio Diogo, ou como diz meu avô, o “Velho Diogo”, contou anos mais tarde para o filho, meu avô, sobre o caso do pai da esposa de Antonio Diogo, quando eles eram crianças, curiosas, que queriam porque queriam descobrir o que perturbava as galinhas do lugar onde moravam durante a semana santa. Montaram tocaia e conseguiram prender o ladrão de galinhas, um cachorrão, com vários laços, trouxeram-no perto do fogo e averiguam que se tratava não de um animal, e sim de um preto velho, nu. Completamente amedrontados, entregaram uma muda de roupa para o senhor que partiu sem dizer uma palavra. Algum tempo depois, a roupa estava de volta, pendurada na cerca. O meu avô duvida da veracidade dessa história, por se tratar de crianças, no entanto, há sempre o benefício da dúvida nesses casos.
.
Quando me dispus a resgatar o passado desse lado de minha família, que sobreviveu através do meu avô e suas histórias insólitas, em novas conversas que não necessitavam mais da intervenção da chuva e da incompetência da agência de energia elétrica para acontecerem, minha avó Ilda, esposa de Sebastião, minha mãe Rosangela e minhas tias, Marilda e Roseli regozijavam-se pela oportunidade de alimentar a nostalgia, igualmente como eu o faço ao me lembrar das primeiras vezes que ouvi essas histórias. Todos, em maior ou em menor grau, sejam ajudando a me fazer compreender uma era cuja qual eu não pertenci, ou passando o café que me dá a força que necessito para escrever, merecem ser agradecidos. Desculpem-me se não citar o nome de todos vocês.
.
Continua...
.
Essa é a primeira parte de uma coleção de histórias que estou fazendo sobre o meu avô materno, Sebastião, aqui se encerra a primeira parte, que fala sobre Emília, a avó de meu avô. A minha intenção não é provar a autenticidade das histórias, mas registrá-las, tentando ao máximo fazer justiça a como o meu avô me conta tudo isso. Ouví-lo contar todos esses causos é muito melhor do que ler, porém, para quem não pode ter essa oportunidade, essa é a minha forma de eternizar a história da minha família, e a minha. Espero que gostem.

 A imensa lua, esplendorosa, pairava no alto do véu de negror infinito ofuscando as pequenas e tristes estrelas. Ártemis parecia se contemplar diante do lago espelhado e derramava seu luar de prata na pele alva e suave da ninfa que se banhava à meia-noite. A água deslizava pela seda de sua pele, se escondendo pelas curvas perfumadas, na carne macia e rósea, pelos cachos, entre os seios, entre as coxas. Uma visão divina, capaz de despertar toda a fúria do demônio da libido no filho de Pã que observava, à distância, escondido nos ramos de espinhos na margem, a bela ninfa do canto, Aera. Acreditem quando digo que seus pensamentos eram os mais sórdidos possíveis; as mãos tremiam ao imaginar o toque de suas garras cravadas profundas no quadril da ninfa, puxando-a ferozmente contra si em uma curra alucinada. Ecoavam gemidos, gritos, uivos e balidos por toda a floresta noturna nas fantasias de Lupercus. A boca espumava de luxúria, os olhos ganhavam um brilho de extrema malícia, e o sexo latejava de desejo em rasgar a flor incólume de Aera.
A imensa lua, esplendorosa, pairava no alto do véu de negror infinito ofuscando as pequenas e tristes estrelas. Ártemis parecia se contemplar diante do lago espelhado e derramava seu luar de prata na pele alva e suave da ninfa que se banhava à meia-noite. A água deslizava pela seda de sua pele, se escondendo pelas curvas perfumadas, na carne macia e rósea, pelos cachos, entre os seios, entre as coxas. Uma visão divina, capaz de despertar toda a fúria do demônio da libido no filho de Pã que observava, à distância, escondido nos ramos de espinhos na margem, a bela ninfa do canto, Aera. Acreditem quando digo que seus pensamentos eram os mais sórdidos possíveis; as mãos tremiam ao imaginar o toque de suas garras cravadas profundas no quadril da ninfa, puxando-a ferozmente contra si em uma curra alucinada. Ecoavam gemidos, gritos, uivos e balidos por toda a floresta noturna nas fantasias de Lupercus. A boca espumava de luxúria, os olhos ganhavam um brilho de extrema malícia, e o sexo latejava de desejo em rasgar a flor incólume de Aera.






.jpg)